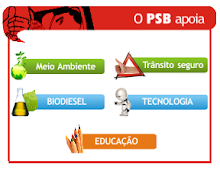Ricardo Lara (*)
.
O livro da cientista social Maria Orlanda Pinassi emerge, em tempos de ilusões pós-modernas, na oposição da apologética acadêmica niilista. A teoria social articulada em seus ensaios alimenta-se na tradição ontológica materialista e dialética que se agarra a práxis revolucionária. Aliada ao conceito de decadência ideológica – “um dos mais férteis instrumentos da ciência marxiana da história” (PINASSI, 2009, p. 16) –, a autora oferece contundente arsenal de críticas as ideologias irracionais que se instauraram no pensamento social após a consolidação da hegemonia burguesa.
.
O conceito de decadência ideológica, elaborado por Georg Lukács (1885–1971) designa a crise espiritual da burguesia após 1848. Para Lukács o que temos, com a evolução do pensamento social burguês, é a: "liquidação de todas as tentativas anteriormente realizadas pelos mais notáveis ideólogos burgueses, no sentido de compreender as verdadeiras forças motrizes da sociedade, sem temor das contradições que pudessem ser esclarecidas; essa fuga numa pseudo-história construída a bel prazer, interpretada superficialmente, deformada em sentido subjetivista e místico, é a tendência geral da decadência ideológica."
.
Pinassi reflete sobre a incidência do conceito de decadência ideológica na atualidade, principalmente diante das ideologias que pregam o “fim da história”, o “fim da ideologia”, o “fim do trabalho”. O pensamento burguês contemporâneo, na maioria dos casos, apresenta tendências que não se preocupam em construir conhecimentos que levam em consideração a materialidade social. O pensamento social faz das ciências sociais e humanas um mecanismo irracional que nega o desenvolvimento sócio-histórico e evita produzir conhecimentos que têm como pressuposto o mundo da atividade concreta e sensível do homem.
.
.
O livro da cientista social Maria Orlanda Pinassi emerge, em tempos de ilusões pós-modernas, na oposição da apologética acadêmica niilista. A teoria social articulada em seus ensaios alimenta-se na tradição ontológica materialista e dialética que se agarra a práxis revolucionária. Aliada ao conceito de decadência ideológica – “um dos mais férteis instrumentos da ciência marxiana da história” (PINASSI, 2009, p. 16) –, a autora oferece contundente arsenal de críticas as ideologias irracionais que se instauraram no pensamento social após a consolidação da hegemonia burguesa.
.
O conceito de decadência ideológica, elaborado por Georg Lukács (1885–1971) designa a crise espiritual da burguesia após 1848. Para Lukács o que temos, com a evolução do pensamento social burguês, é a: "liquidação de todas as tentativas anteriormente realizadas pelos mais notáveis ideólogos burgueses, no sentido de compreender as verdadeiras forças motrizes da sociedade, sem temor das contradições que pudessem ser esclarecidas; essa fuga numa pseudo-história construída a bel prazer, interpretada superficialmente, deformada em sentido subjetivista e místico, é a tendência geral da decadência ideológica."
.
Pinassi reflete sobre a incidência do conceito de decadência ideológica na atualidade, principalmente diante das ideologias que pregam o “fim da história”, o “fim da ideologia”, o “fim do trabalho”. O pensamento burguês contemporâneo, na maioria dos casos, apresenta tendências que não se preocupam em construir conhecimentos que levam em consideração a materialidade social. O pensamento social faz das ciências sociais e humanas um mecanismo irracional que nega o desenvolvimento sócio-histórico e evita produzir conhecimentos que têm como pressuposto o mundo da atividade concreta e sensível do homem.
.
 Nos tempos presentes a irracionalidade burguesa avança a passos vastos, as concepções científicas de todas as áreas do saber mostram-se capacitadas para responder as ânsias de um modo de vida que sobrevive entre a plena realização da coisa (fetiche do capital) e a barbárie social. As possíveis respostas para os fenômenos sociais e naturais que afligem a humanidade estão presentes em todas as ciências, mas os abismos entre a realidade social e suas percepções científicas geram concepções caóticas. Os “paradigmas” científicos explicam o homem tentando buscar sua essência, mas não compreendem que a essência humana deve ser encontrada no conjunto das relações sociais, pois “a essência humana não é uma abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais.”
Nos tempos presentes a irracionalidade burguesa avança a passos vastos, as concepções científicas de todas as áreas do saber mostram-se capacitadas para responder as ânsias de um modo de vida que sobrevive entre a plena realização da coisa (fetiche do capital) e a barbárie social. As possíveis respostas para os fenômenos sociais e naturais que afligem a humanidade estão presentes em todas as ciências, mas os abismos entre a realidade social e suas percepções científicas geram concepções caóticas. Os “paradigmas” científicos explicam o homem tentando buscar sua essência, mas não compreendem que a essência humana deve ser encontrada no conjunto das relações sociais, pois “a essência humana não é uma abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais.”.
A decadência ideológica desvenda o “racionalismo burguês”, justificador do desenvolvimento capitalista do final da segunda metade do século XIX, que se ancora no período imperialista, e concretiza-se nas crises cíclicas do século XX. Nessa processualidade social surgem os causídicos do sistema, com suas teorizações do “pleno emprego”, do “estado de bem estar social”, sustentadores da inconsciência burguesa. Pinassi expõe o poder da ideologia, revestida de apologética, que oferece sustentação para a acumulação capitalista. O conceito de decadência ideológica revela a crítica da totalidade social, revela a conexão entre força material e construção ideológica do sistema do capital, oferece a possibilidade da crítica, genuína e fecunda, que resgata a perspectiva ontológica.
.
Os ensaios que compõem o livro depositam confiança na alternativa socialista como a única opção para a sobrevivência da humanidade. Aborda questões fundamentais da transição socialista. Desmistifica a irracionalidade burguesa e abre o caminho para a teorização da revolução socialista, pois a história da humanidade não é algo dado e acabado como ampara o pensamento burguês apologético. A luta de classes e a constituição da classe revolucionária é o principal tema perquirido ao longo das páginas. Os textos abordam as principais polêmicas do projeto verdadeiramente socialista, Pinassi não teme em deixar evidente sua postura radical contra as ilusões irracionais acadêmicas pós-modernas.
.
 Para isso ela inquieta-se com a universalização do capital e suas absurdas e cruéis formas de irracionalismo. Para levar a êxito tal posicionamento, nota-se, no livro, a atenta interlocução com as obras de Marx, Lukács e Mészáros, ganhando evidência a percepção audaz de extrair os debates nodais da crítica ontológica expirada na ciência da história marxiana. As interlocuções com os clássicos do pensamento marxiano rejuvenesce as críticas impenitentes ao capitalismo. Sem rodeios apologéticos, a autora vai a questão essencial: só é possível liberdade e democracia numa sociedade para além do irracionalismo burguês, da propriedade privada e da alienação. O principal fundamento da crítica marxiana foi a descoberta de quê a produção e reprodução da vida social burguesa se estabelece pela dialética da propriedade privada e do trabalho estranhado.
Para isso ela inquieta-se com a universalização do capital e suas absurdas e cruéis formas de irracionalismo. Para levar a êxito tal posicionamento, nota-se, no livro, a atenta interlocução com as obras de Marx, Lukács e Mészáros, ganhando evidência a percepção audaz de extrair os debates nodais da crítica ontológica expirada na ciência da história marxiana. As interlocuções com os clássicos do pensamento marxiano rejuvenesce as críticas impenitentes ao capitalismo. Sem rodeios apologéticos, a autora vai a questão essencial: só é possível liberdade e democracia numa sociedade para além do irracionalismo burguês, da propriedade privada e da alienação. O principal fundamento da crítica marxiana foi a descoberta de quê a produção e reprodução da vida social burguesa se estabelece pela dialética da propriedade privada e do trabalho estranhado..
A autora, ao abordar as temáticas polêmicas, questiona o medo dos homens contemporâneos, o temor que vem transvestido de mais alienação. A teoria social tem medo de questionar a realidade e colocar em xeque o metabolismo social do capital. Perante isso, evidencia-se a generosa crítica aos anticapitalistas românticos que não questionam a exploração da mais-valia e a propriedade privada, e aos que levantam a bandeira visionária dos “direitos das minorias”. A racionalidade pseudo-crítica não questiona as raízes das contradições da sociedade burguesa, ignora a luta de classes e não resgata a crítica a barbárie social imposta pela ordem do capital. Depois de ler o livro, percebemos o quanto e o porquê as ciências sociais e humanas estão tão distantes da realidade social.
.
Enfim, na contemporaneidade, muito se escreve e muito se lê sobre a sociedade humana e suas relações sociais submetidas à lógica do capital, mesmo aqueles que se pautam na crítica da sociabilidade burguesa acabam, em alguns casos, reproduzindo estilos acadêmicos oriundos da decadência ideológica. Pinassi diverge da maioria da intelectualidade atual, afronta o “tema” da emancipação humana como prioridade no debate das ciências sociais e humanas. O destemido livro representa a imprescindível crítica radical às ideologias apologéticas e, por conseguinte, irracionais. A leitura é uma interlocução, segura, com Marx, Lukács e Mészáros, na melhor maneira da aspiração ontológica, as análises são sobre determinadas condições de existência reais, históricas e transitórias, as críticas teóricas são sobre as relações de produção e reprodução da vida humana sob as contradições inconciliáveis do sistema do capital.
.
(*) Professor adjunto do curso de Serviço Social da UFSC.
.
FONTE: Lista JSB Unificada
.